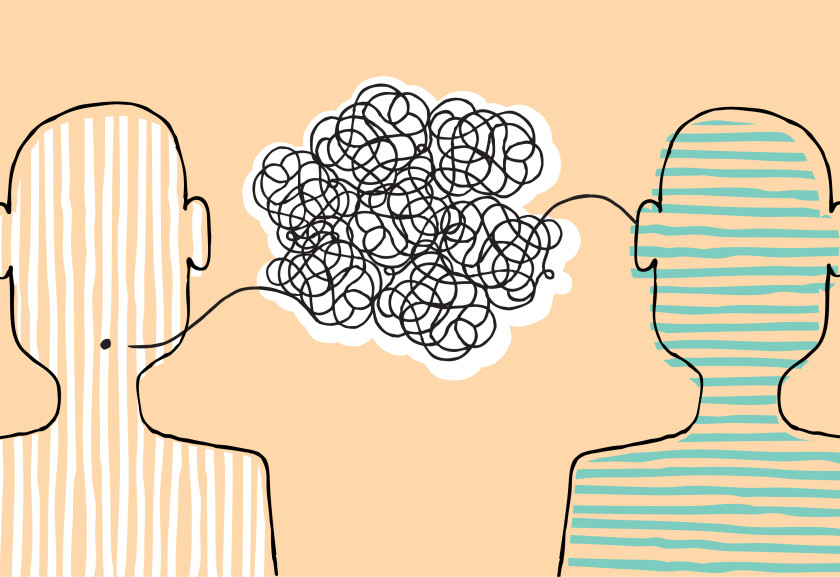Crédito: Metrópoles/Divulgação
Fui assistir na segunda-feira ao filme “Julieta” (na foto acima), de Almodóvar. Ele é sempre um prato cheio para quem gosta de explorar as questões do psiquismo. Mas desta vez a coisa não vem como sempre, com o surrealismo das “cores de Almodóvar”, como diria a Calcanhotto. Vem de forma sutil, comum. Vem de uma forma tão direta, tão imediata, tão real.
Não pesquisei para saber de onde partiu a inspiração da obra, nem de qual fragmento de história ela fala. Não foi necessário. A arte de Almodóvar fala daquilo que me chega todo dia à porta, algumas vezes por dia. Entram no meu consultório diversas Julietas, que, por diversos motivos, abandonaram-se.
Depressão, culpa, expectativas familiares, heranças malditas. Vidas transferidas em prioridades alheias. Silêncios, muitos silêncios. Temas que já apareceram por aqui, nesta coluna. Outras que ainda não se apresentaram, mas que chegarão no momento oportuno.
Quando é esse momento? Quando consigo penetrar neles, come-los, deixar-me invadir por eles. Daí eles me inquietam, perturbam, desassossegam. E daí nasce um texto.
Flexibilidade
Foi assim ao assistir Julieta. A meu ver, a história trata da compaixão. Da mais difícil das compaixões. A que precisamos ter com quem, por motivos de força maior, não nos partilhou sua realidade. Na maioria das vezes, para nos poupar daquilo que são, somos – das misérias que nos corroem.
Acreditamos, injustamente, que o outro deve ter a nossa medida. Ignoramos, de forma egoísta e cruel, as circunstâncias. Dizemo-nos acolhedores, mas só damos pouso àqueles que se deixam moldar a nosso gosto.
Assim como no mito grego de Procusto, que adaptava os hóspedes à sua cama de ferro: quando altos, cortava-lhes o excesso para que coubessem no móvel; quando menores, esticava-lhes o corpo até que a ocupassem inteira.
Somos mais rigorosos que a própria realidade (que já não é mole) e assoberbamos o outro com cobranças do que ele deveria ser. Sem antes percebermos o fardo de serem quem são. Muitas vezes, a crueza da vida é a única medida que encontramos para dar limite a esse olhar severo. “Agora eu sei o que você passou”, fala o nosso constrangimento. Às vezes redime. Em outras, é tarde demais.
A vida negada
Só experimentamos o verdadeiro amor quando, mesmo que com muita dificuldade, conseguimos ir além das nossas expectativas e suportamos o outro da forma como ele verdadeiramente é. Confundimos ausência com maldade: achamos que o outro não nos entrega o que julgamos sermos merecedores. Quando, de fato, ele não tem a dar. Nem para si próprio.
O histórico familiar de depressão que o filme apresenta poderia ser simplesmente explicado por fatores biológicos sucessivos, transmitidos por algum gene. Mas a hereditariedade melancólica de Julieta decorre do convívio com a ausência, com o medo do abandono, com a incapacidade de estabelecer uma relação simpática com o outro.
Mais uma vez, o epicentro da dor está na relação. A incapacidade de perceber o outro em suas necessidades. De respeitar-lhe o silêncio, percebendo o que é dito em cada respiração. De entender, no recolhimento do desejo, a necessidade de uma alma, que rompe espaços nas cascas rijas da moral para se fazer brotar. De pressupor que do lado de lá é tão difícil como é do lado de cá.