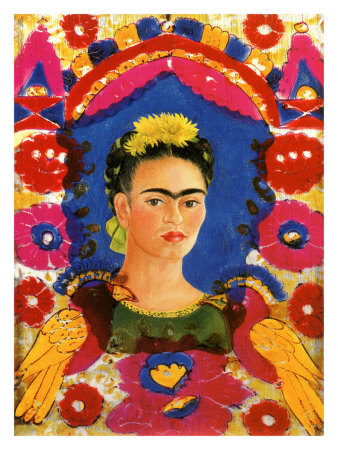A culpa é da mãe. E do pai. O exercício analítico é tentador nesse aspecto. Basta adentrar no campo das memórias de um indivíduo para que esses personagens não tardem a aparecer, com grande capacidade de influência sobre comportamentos, crenças e fantasias. Há casas com pai demais, há casas com pai de menos. Há mães-Medéias, que devoram a cria em nome do ciúme e da vingança. Noutras, Virgens-Marias se sacrificam diariamente para garantir a felicidade dos filhos – e, quase sempre, expõem no futuro as chagas do sacrifício, sem nenhuma piedade.
De certo, as figuras parentais (ou a ausência delas) são peças imprescindíveis para o desenvolvimento da personalidade de um indivíduo. Podem influenciar positiva ou negativamente, despertando assim o impulso de identificação ou de negação. A mãe nos ensina a capacidade de estabelecermos vínculos e relacionamentos. O pai, por sua vez, fortalece a nossa postura de autossuficiência diante do mundo. Quando desempenham seus papeis de forma equilibrada, nos proporcionam a chave do bom senso: saber manter-se como referencial diante da vida (egocentrismo), sem que percamos a impessoalidade diante de nosso semelhante.
No entanto, pais e mães são resultados de outros pais e outras mães, em sucessão. Infelizmente, para esse ofício não há um manual, nem uma prova de habilidades específicas, que garanta o exercício da atividade de forma segura, minimizando as possibilidades de erro. Na contestadora fase da adolescência, os filhos costumam ter um pensamento que os rege: quando eu tiver meus filhos, farei tudo diferente. Carregam esse lema consigo numa boa, até que ouvem o primeiro choro do bebê. Daí entendem que a insegurança é uma atribuição inerente à paternidade e à maternidade. E ficam em busca da hora certa de repreender, de ser conivente, de admitir as próprias falhas, de vencer o cansaço pelo dever de demonstrar o tal amor incondicional…
Quando estamos dirigindo, é natural que façamos trajetos já conhecidos quando nos vemos em uma situação de vulnerabilidade ou pressão. Não seria diferente quando o assunto é lidar com os filhos. No consultório, já ouvi de muitas mulheres aflitas: “era como se minha mãe estivesse falando pela minha boca”. Confessam isso como se tivessem sido mediunizadas por algum demônio. Busco dar-lhes o conforto da aceitação: você repetiu os dizeres da sua mãe pois, com ela, aprendeu que essa seria a forma mais pertinente para o viver bem. E o que é viver bem? Afastar o sofrimento de si e de quem amamos. E como fazer isso? Infelizmente, isso é impossível de conceituar. Não há fórmulas preconcebidas, é tudo uma questão de tentativas recorrentes, que oscilam entre acerto e erro.
No entanto, não estimulo uma crença de sina familiar, que se propaga por gerações a fio. Creio na transformação, na melhora, no depuro. Mas sei, e não escondo de ninguém, o quanto isso é difícil de ser praticado. A mudança de um paradigma herdado é algo que nos custa o enfrentamento dessa família. A convicção só desponta com o amadurecimento, e, para chegar lá, o primeiro passo é a aceitação da falibilidade: você será importante, mas não cabe a si toda a responsabilidade pelo sucesso dos seus filhos.
Para diminuir a cobrança da perfeição, um bom exercício é de voltar a se enxergar como filha(o): ver o que mudou com o tempo na relação parental, quais condenações foram atenuadas, como certas palavras e gestos dos pais interferiram no que você é. Distribua desculpas: ao pai, à mãe, a você. Cada um exerceu aquilo que, por força das circunstâncias ou dos limites da visão, parecia ser o melhor. Ou, no mínimo, o possível para o momento.